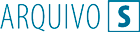Quer receber notificações do portal Senado Notícias?
1ª Constituinte da República teve queixas da Igreja e ausência do povo
Em 18 de novembro de 1889, três dias após a derrubada de D. Pedro II pelos militares, o jornalista republicano Aristides Lobo escreveu, num célebre artigo publicado no jornal Diário Popular, que não houve povo nesse episódio histórico: “O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditaram seriamente estar vendo uma parada [militar]”.
O Brasil passou a ser conduzido pelo governo provisório do marechal Deodoro da Fonseca e só voltaria à plena legalidade em 24 de fevereiro de 1891, um ano e três meses depois da Proclamação da República, quando os senadores e deputados reunidos no Congresso Constituinte entregaram ao país a sua primeira Carta republicana. A promulgação da Constituição de 1891 completa 130 anos neste mês.
Documentos da virada de 1890 para 1891 guardados hoje nos Arquivos do Senado e da Câmara dos Deputados mostram que tampouco houve povo nesse segundo momento decisivo da história nacional, no qual o Congresso Constituinte desenhou os novos contornos institucionais do Brasil.
— Sinto a minha alma partida quando olho para estas galerias e não vejo o elemento que nos deveria cercar, o elemento popular — queixou-se, num discurso, o deputado Aristides Zama (BA).
A feitura da Carta de 1891 foi bem diferente da construção da Carta de 1988, vigente hoje e marcada pela intensa contribuição popular.
No fim do século 19, os constituintes se reuniram no Paço de São Cristóvão, praticamente na zona rural do Rio de Janeiro. Para percorrer os seis quilômetros entre o Centro e São Cristóvão, as carruagens levavam duas horas e meia.
— O governo não deveria ter cogitado em pôr o Congresso no deserto, impedindo o povo de ver como os seus representantes tratam de seus altos interesses — criticou Zama. — Nós devíamos estar trabalhando lá no coração da cidade, de modo que o homem do povo que tivesse uma hora vaga pudesse entrar no Congresso Constituinte Nacional. O povo está daqui afastado. Afastaram-no a distância, a dificuldade, o elevado preço do transporte. Quereis fazer a República e afastais o povo dos lugares em que pode e deve aprender o que é uma democracia?
Para o deputado e pintor Pedro Américo (PE), outro crítico da localização remota do Congresso Constituinte, houve segundas intenções nessa escolha:
— Há quem diga que o Congresso reúne-se longe da cidade para evitar as assuadas [vaias] populares.
Reforçava essa hipótese o fato de o Paço de São Cristóvão não dispor da estrutura adequada para abrigar os 205 deputados e os 63 senadores do Congresso Constituinte. O local fora construído como residência. Até D. Pedro II ser expulso do país, em 1889, São Cristóvão havia sido a morada da dinastia de Bragança. Os constituintes reclamavam que o ambiente era um “forno” e que a acústica era péssima, o que lhes exigia “pulmões de ferro” na hora de discursar.
— Se nos mandassem para a Índia [discutir a Constituição], também iríamos muito caladinhos? — continuou Pedro Américo, indignado. — Seja a antiga Câmara [dos Deputados] ou qualquer outro edifício, o que é necessário é nos mudarmos para lugar menos impróprio do que este palácio, o qual seria muito mais apropriado para servir de museu histórico nacional ou simplesmente para as reuniões festivas e solenes do Congresso.
O natural, de fato, era que os constituintes se reunissem na Câmara da época imperial ou então no Senado, ambos desativados e localizados no Centro, mas tal possibilidade já estava descartada. O marechal Deodoro sabia que parte considerável dos habitantes do Rio — incluindo os antigos escravizados beneficiados pela Lei Áurea — era partidária da Monarquia e, como tal, poderia atrapalhar os planos do governo republicano caso decidisse comparecer em massa e fazer algum tipo de pressão sobre o Congresso Constituinte.
O movimento republicano sempre foi minúsculo e jamais conseguiu angariar a mesma adesão popular que o movimento abolicionista. O próprio Deodoro era monarquista convicto e só se juntara na última hora aos conspiradores de 1889. A popularidade de D. Pedro II era tamanha que o embarque da família imperial no navio que a levou para o exílio ocorreu de madrugada, enquanto o Rio dormia. Assim, o governo republicano evitou conflitos e manifestações a favor do imperador.
— Queria que a República não tivesse medo do povo, que não fizesse como certos domadores de feras, que só acariciam as jubas do leão quando ele está açaimado [amordaçado]. Somos muito engraçados: lisonjeamos o povo de longe, mas, quando temos de encontrar com ele, fugimos — discursou o deputado Francisco Badaró (MG). — Se o povo brasileiro estivesse nesta Casa palpitante como está no interior do país, a obra sairia diferente.
O medo do povo também pode ser depreendido de um dos primeiros artigos da Constituição de 1891, o que determinou a transferência da capital para o centro do país. Foi a primeira vez que a nova capital apareceu numa lei. Segundo historiadores, isso se explica principalmente pela preocupação que o primeiro governo republicano tinha em relação à possibilidade de se formar no Rio algum movimento pela restauração monárquica.
No entanto, a consolidação da República ao longo dos anos seguintes faria o preceito constitucional da mudança da capital ser esquecido, para só sair do papel em 1960, com a inauguração de Brasília.
A Constituição de 1891, promulgada pelos senadores e deputados constituintes 15 meses após a derrubada de D. Pedro II, estabeleceu as bases políticas sobre as quais o país se ergue até os dias de hoje: a República, o presidencialismo, os três Poderes e o federalismo.
Até 1889, as bases eram bem diferentes. Como Monarquia parlamentarista, o Brasil tinha imperador e primeiro-ministro. Havia o Poder Moderador, que era exercido pelo monarca e prevalecia sobre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Diferentemente dos atuais estados, as antigas províncias eram meros braços do governo central e quase não tinham autonomia política e financeira. Nem sequer escolhiam seus próprios presidentes (como se chamavam os governadores).
Entre as raras vozes da sociedade que conseguiram se manifestar na Constituinte de 1890-1891, estiveram o Apostado Positivista e a Igreja Católica, ambos por meio de carta. Os seguidores do positivismo (filosofia na época em voga que pregava que só a ciência garantiria o progresso da humanidade) recomendaram aos parlamentares que ficassem atentos para não cair em “utopias comunistas”. Os religiosos, por sua vez, não gostaram de ver o catolicismo perdendo o status de religião oficial do Brasil e os subsídios dos cofres públicos.
“A separação violenta, absoluta e radical não só entre a Igreja e o Estado, mas entre o Estado e toda religião, perturba gravemente a consciência da nação e produzirá os mais funestos efeitos, mesmo na ordem das coisas civis e políticas. Uma nação separada oficialmente de Deus torna-se ingovernável e rolará por um fatal declive de decadência até o abismo, em que a devorarão os abutres da anarquia e do despotismo”, escreveu o arcebispo primaz do Brasil, D. Antônio de Macedo Costa.
Os católicos não foram ouvidos. Além da separação entre Igreja e Estado, a Constituição de 1891 determinou que o casamento religioso não teria mais validade pública, apenas o casamento civil.
O Senado também passou por mudanças. Os senadores deixaram de ser vitalícios e passaram a ter mandato limitado. O Supremo Tribunal, que no Império era quase decorativo, ganhou poderes e pôde julgar processos políticos.
De acordo com o cientista político Christian Lynch, da Fundação Casa de Rui Barbosa e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), o governo republicano recorreu a vários artifícios para ter controle sobre o conteúdo da Constituição que seria aprovada:
— Primeiro, a eleição para o Congresso Constituinte foi regida por uma legislação fraudulenta, que impediu a entrada de todos que fossem adversários do novo regime, como os monarquistas, os parlamentaristas e os unitaristas [opositores do federalismo]. Depois, o governo enviou um projeto de Constituição pronto e deu aos constituintes parcos três meses para aprová-lo, o que restringiu as discussões e dificultou as modificações. Por fim, os constituintes automaticamente se tornariam senadores e deputados ordinários, sem nova eleição, após a dissolução do Congresso Constituinte. Isso foi ruim porque eles perderam a liberdade de decidir. Estando com o mandato garantido pelos próximos anos, não faria sentido que mudassem as regras do jogo político em seu prejuízo. Jamais, por exemplo, aprovariam uma Constituição prevendo o Poder Legislativo unicameral. No fim das contas, o Congresso Constituinte fez pouco mais que carimbar o projeto do governo provisório.
Apesar de a escravidão ter sido abolida apenas três anos antes, o Congresso Constituinte não tocou na complicada situação dos antigos escravizados, que foram libertados sem ganhar nenhum tipo de compensação ou apoio do poder público. A escravidão foi citada, por exemplo, quando um constituinte parabenizou o governo por incinerar todos os registros públicos relativos à posse de escravizados e também quando um político de Campos (RJ) afirmou que a Lei Áurea havia levado sua cidade à ruína econômica.
Alguns parlamentares chegaram a questionar se o povo teria condições intelectuais para, pelo voto direto, escolher os presidentes da República.
— O voto direto traz o país constantemente sobressaltado por ocasião das eleições, às quais concorre grande massa de povo ignorante, e não raro são os distúrbios e desordens que provoca, o que se economiza perfeitamente com o voto indireto, dando-se a faculdade eletiva a um eleitorado escolhido — argumentou o deputado Almeida Nogueira (SP).
— No Brasil, como em toda parte, qualquer que seja o sistema preferido, quem governa não é a maioria da nação. É a classe superior da sociedade, uma porção mais adiantada e, conseguintemente, mais forte da comunhão nacional — acrescentou o deputado Justiniano de Serpa (CE).
Apesar desse tipo de raciocínio, a Constituição de 1891 entrou em vigor prevendo a eleição direta para presidente. Grande parte dos ex-escravizados, contudo, foi alijada desse direito, já que a Carta republicana negou o voto aos analfabetos, como já faziam as leis do Império desde 1881. O deputado Lauro Sodré (PA) tentou, sem sucesso, permitir que os iletrados votassem:
— Estamos em uma fase social que se acentua pela elevação do proletariado. Se lançarmos os olhos para os povos civilizados, havemos de ver que em todos eles se vai levantando a grande massa. Chamem-na socialismo, niilismo ou fenianismo, um só é o fenômeno social: o advento do Quarto Estado. Não posso dar o meu voto a este verdadeiro esbulho com que se tenta ferir todos os que não sabem ler nem escrever, ainda que trabalhem tanto na obra do progresso da nação quanto aqueles que tiveram a fortuna de aprender a assinar o seu nome.
As oligarquias estaduais aproveitaram o Congresso Constituinte para, na adoção do federalismo (transformação das províncias em estados), tentar obter o máximo possível de liberdades, prerrogativas e benesses. Sugeriu-se que o governo federal assumisse as dívidas de todos os estados, que os governos locais tivessem o poder para abrir bancos emissores de papel-moeda e que cada governador indicasse um ministro para o Supremo Tribunal Federal. Outra ideia debatida foi a liberdade para que os estados criassem suas próprias leis civis, processuais, comerciais, eleitorais e até penais.
— Os crimes de homicídio, de roubo e de furto hão de ser crimes de homicídio, de roubo e de furto no Rio Grande do Sul, no Pará, em Minas, no Amazonas e em toda parte, mas a penalidade pode diversificar. No Rio Grande do Sul, onde o povo é dado à indústria pastoril, infelizmente há em abundância o furto de gado e lá nós precisamos punir mais gravemente esse delito do que puniriam os pernambucanos, os mineiros e os alagoanos, para evitar sua reprodução — argumentou o deputado Cassiano do Nascimento (RS).
À exceção dos códigos processuais estaduais, nenhuma dessas ideias vingou. Em compensação, as oligarquias conseguiram incluir na Constituição a criação dos Judiciários estaduais (antes só havia o Judiciário nacional) e a concessão das terras devolutas aos estados (antes pertenciam à União).
— As antigas províncias, feudos da Monarquia, aqueles territórios estéreis onde dominavam o imperialismo e o niilismo, aquelas províncias verdadeiramente esfarrapadas e nuas, como se fossem mendigas, aí surgem, como que mudando de sexo, transformadas em estados — festejou o senador Américo Lobo (MG).
A partilha do dinheiro público também mobilizou as oligarquias estaduais. Dos poucos embates ocorridos nos três meses do Congresso Constituinte, esse foi o mais renhido. No Império, a autonomia financeira das províncias era quase nula. Elas não tinham poder sobre o dinheiro arrecadado em seus territórios pelo governo central, que fazia a seu critério a distribuição dos recursos. No Congresso Constituinte, os estados mais ricos buscaram acabar com essa dependência. São Paulo, por exemplo, que não gostava de ver as volumosas somas geradas pela exportação do seu café sendo aplicadas em outros cantos do Império, agiu para ter o controle de todo o dinheiro.
— Diante da decadência que se abateu sobre o Nordeste na década de 1870, em razão da crise do açúcar, a Monarquia passou a redistribuir para as províncias nordestinas o dinheiro dos tributos arrecadados em São Paulo. Por esse motivo, a Monarquia era popular no Nordeste e impopular em São Paulo. Os paulistas, que se viam como a locomotiva que puxava os 20 vagões das demais províncias vazios, abraçaram a ideia do federalismo republicano porque não queriam mais perder dinheiro — explica o cientista político Christian Lynch.
A bancada do Rio Grande do Sul apresentou uma proposta radical de federalismo: a arrecadação tributária passaria para as mãos dos governos locais, e a União se tornaria dependente de uma mesada paga pelos estados.
— Se dermos aos estados toda a autonomia, mas não lhes dermos renda, isso equivalerá à liberdade da miséria — argumentou o deputado Júlio de Castilhos (RS). — A federação, para ter realização efetiva, completa, satisfatória, depende da devolução aos estados não somente dos serviços que lhes competem, mas também da devolução das rendas que no regime decaído [Monarquia], o qual tanto combatemos, eram absorvidas quase que totalmente pelo governo central.
— Neste momento em que se tratamos de organizar os estados, se me afigura como que uma cena de família em que os filhos da casa, chegados à maioridade, deixam o teto paterno para constituírem em separado suas famílias. Os estados, antigas províncias, vão neste momento, depois de sua independência, adotar um novo regime que deve produzir sua grandeza e felicidade — comparou o senador Ramiro Barcellos (RS).
Para os adversários da ideia, esse federalismo extremado fortaleceria tanto certos estados que poderia levá-los a desejar o separatismo, comprometendo a União.
— O que se está propondo é uma confederação de republiquetas — criticou o senador José Hygino (PE).
— Os estados brasileiros têm tido nesta Casa tantos defensores quantos são os seus representantes. A União, porém, a pátria comum, parece que não tem advogado — lamentou o senador Ubaldino do Amaral (PR), acrescentando que, caso os estados em algum momento se recusassem a transferir os impostos, o governo federal não teria como custear o Exército, a Marinha, as embaixadas no exterior, o serviço de correios e a segurança interna.
Para o senador Ruy Barbosa (BA), a União estaria fadada à morte se passasse a depender das “migalhas” dos estados:
— Os estados são órgãos; a União é o agregado orgânico. Os órgãos não podem viver fora do organismo assim como o organismo não existe sem os órgãos. Separá-los é matá-los. Não vejamos na União uma potência isolada no centro, mas a resultante das forças associadas disseminando-se equilibradamente até as extremidades. Fora da União, não há conservação para os estados.
Por uma margem apertada, 123 votos contrários e 103 favoráveis, a proposta da bancada gaúcha foi derrotada. O federalismo previsto na Constituição de 1891 garantiu recursos equilibrados para a União e o conjunto do estados. A estes últimos coube, entre outros, o imposto de exportação — justamente o principal pleito de São Paulo.
Aristides Lobo, o jornalista que descreveu o povo assistindo “bestializado” ao golpe de Estado de 1889, elegeu-se deputado pelo Distrito Federal (na época o Rio de Janeiro) e participou da elaboração da Constituição de 1891. O seu artigo ficou tão famoso já na época que, no Congresso Constituinte, ele ouviu colegas avaliando que o adjetivo “bestializado” era exagerado e jurando que o povo havia, sim, ajudado a derrubar a Monarquia. Lobo discordou:
— O acontecimento deu-se no meio de uma população surpresa pela oscilação revolucionária. Esse é o aspecto natural da questão.
Na tribuna do Paço de São Cristóvão, o deputado Serzedello Correia (PA) fez uma avaliação semelhante à de Aristides Lobo:
— A República devia vir como veio: calma, silenciosa, de modo que as tropas percorreram as ruas em triunfo e as crianças continuavam a brincar no colo de suas mães.
Terminado o Congresso Constituinte, os parlamentares deixaram o improviso do Paço de São Cristóvão e se mudaram para o Centro do Rio de Janeiro. Os senadores passaram a trabalhar no mesmo prédio do Senado imperial e os deputados, no mesmo prédio da Câmara imperial. São Cristóvão se transformou no Museu Nacional — o mesmo que seria devastado em 2018 por um incêndio.
A seção Arquivo S, resultado de uma parceria entre a Agência Senado e o Arquivo do Senado, é publicada na primeira sexta-feira do mês no Portal Senado Notícias.
Mensalmente, sempre no dia 15, a Rádio Senado lança um episódio do Arquivo S na versão podcast, disponível nos principais aplicativos de streaming de áudio.