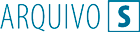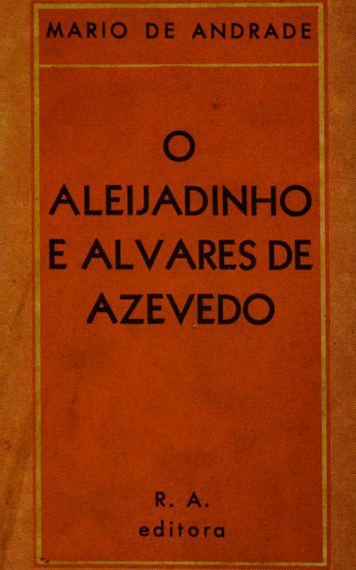Quer receber notificações do portal Senado Notícias?
Modernistas, reformas urbanas e contrabando de arte fizeram Brasil acordar para proteção da cultura
Se hoje os bairros coloniais de Ouro Preto, Diamantina, São Luís, Olinda e Salvador gozam de proteção legal e se mantêm preservados, isso se deve a uma reviravolta cultural que começou a se desenhar no Brasil em 1920.
Foi na Primeira República que intelectuais, artistas e políticos, de forma inédita, se mobilizaram para denunciar que o patrimônio histórico e artístico do país agonizava. Edificações antigas eram sistematicamente danificadas ou demolidas e obras de arte sacra iam para o exterior como contrabando, tudo isso sob o olhar negligente da sociedade.
As denúncias iniciadas surtiriam efeito poucos anos depois. A reviravolta propriamente dita se daria na década de 1930, na Era Vargas, com o Estado brasileiro enfim tomando para si a responsabilidade de proteger a cultura e criando um departamento dedicado a esse fim — o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), mais tarde rebatizado de instituto (Iphan).
O primeiro passo foi dado pela Sociedade Brasileira de Belas Artes, que encomendou uma sugestão de projeto de lei ao arqueólogo russo Alberto Childe, um dos curadores do Museu Nacional (o mesmo destruído pelo fogo em 2018, no Rio de Janeiro). Em agosto de 1920, Childe entregou a minuta, que determinava a expropriação de todos os “objetos e lugares” históricos que se descobrissem no Brasil e a transformação deles em “propriedade da nação brasileira”.
O anteprojeto de Childe acabou não sendo enviado ao Congresso Nacional, mas as notícias a seu respeito saíram em todos os jornais. Isso bastou para que os senadores e deputados acordassem para a gravidade da situação. Documentos da época guardados hoje nos Arquivos do Senado e da Câmara dos Deputados mostram que, daquele momento em diante, a salvaguarda do patrimônio cultural esteve permanentemente na ordem do dia até virar lei.
Em 1923, o deputado federal Luís Cedro (PE) apresentou um projeto de lei que previa a criação da Inspetoria dos Monumentos Históricos. A nova repartição faria o tombamento dos imóveis históricos e dos de interesse artístico, fossem eles públicos ou particulares. Na fachada, ostentariam uma plaquinha com os dizeres “monumento nacional”. Não haveria expropriação, mas eles não poderiam ser demolidos e só seriam reformados mediante autorização. Outros projetos de lei semelhantes viriam em seguida.
A preocupação com o patrimônio cultural nasceu justamente nesse momento em razão de pelo menos quatro fatores. O primeiro deles foi o interesse da Primeira República em apagar o passado. Em seu período de consolidação, o regime republicano, imposto apenas três décadas antes, não quis saber de nada que remetesse ao Império e até mesmo à Colônia.
Na época em que o deputado Cedro apresentou seu projeto, a Câmara punha sua primeira sede no chão, a chamada Cadeia Velha, no Rio de Janeiro, e iniciava as obras de um novo edifício no mesmo local. A Cadeia Velha fora construída 200 anos antes. Nela, esteve preso o inconfidente Tiradentes antes de ser enforcado, em 1792. Também nela, funcionou a primeira Assembleia Constituinte do Brasil, em 1823. O senador Irineu Machado (DF) foi uma das vozes mais indignadas:
— A Câmara resolveu demolir, em vez de procurar guardar, em uma obra de restauração, os muros históricos do cárcere de Tiradentes. Vivemos mais preocupados com a modificação da estética de um jardim do que com os deveres de guardar as páginas da nossa história. Ai de nós, iconoclastas, capazes de tudo desprezar, de tudo destruir! Percorrendo alguns recantos deste mundo, sempre vi o zelo que os povos têm pelas suas casas históricas. Nunca as arrasam. Ao contrário, procuram conservá-las nos lineamentos do seu passado, guardando-as com a deformação e com a patine [camada de oxidação] do tempo, para transmiti-las à posteridade.
A nova sede da Câmara dos Deputados ficaria pronta em 1926 e ganharia o nome de Palácio Tiradentes. O edifício hoje abriga a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
Para a alegria dos antiquários, os governantes da Primeira República enxergavam como velharia os ornamentos das igrejas barrocas de Minas Gerais e do litoral do Nordeste. Peças desse tipo eram oferecidas livremente por casas de leilão, parte delas arrematadas por colecionadores do exterior.
Logo após apresentar sua proposta, o deputado Cedro fez um discurso no qual tentou convencer os colegas a aprová-la recorrendo à situação de um convento baiano do século 17:
— O Convento de Santo Antônio de Paraguaçu, na cidade de Cachoeira, foi literalmente saqueado. As esculturas sacras, os mosaicos, uma preciosa boiserie [moldura de parede em alto relevo] de jacarandá, os altares e toda a prataria foram rateados entre compradores estrangeiros. Vi os seus silhares de velhos azulejos portugueses, já em poder do meu amigo o doutor José Mariano Filho, a quem foram revendidos por alto preço. Esse colecionador de gosto, que todos conhecemos e tem interesse vigilante pelas nossas coisas de arte, muito sofre com essa operosa e sistemática destruição e por isso mesmo me deu um grande estímulo para a apresentação deste projeto.
O segundo fator que pôs o patrimônio cultural em pauta na virada da década de 1910 para a de 1920 foi o surto de reformas urbanas que vinha ocorrendo desde o começo do século. No afã de ordem e progresso, grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Recife destruíram bairros tomados por casebres insalubres e ruelas tortuosas e no lugar abriram grandes bulevares e praças e construíram pomposos edifícios públicos. Não apenas casebres e ruelas desapareceram, mas também construções dos períodos imperial e colonial. O frenesi demolidor avançou sobre testemunhas privilegiadas da história brasileira, provocando em parte da sociedade um sentimento de perda irreparável.
O historiador Ricardo Oriá, consultor legislativo da Câmara dos Deputados nas áreas de educação e cultura e autor de um estudo sobre a história do patrimônio cultural brasileiro, aponta o terceiro fator:
— Com a proximidade das comemorações do centenário da Independência, em 1922, o interesse pela história nacional e a preservação de nosso passado ganharam relevo. Tanto assim que foi nesse mesmo ano de 1922 que se criou a nossa primeira instituição museológica de caráter eminentemente histórico, o Museu Nacional Histórico, no Rio de Janeiro.
Ao mesmo tempo, artistas que em 1922 protagonizariam a célebre Semana de Arte Moderna, em São Paulo, criticavam a mania da elite brasileira de imitar os padrões artísticos da Europa e renegar as próprias raízes. Na visão deles, o país deveria resgatar e valorizar o velho barroco, este sim o genuíno estilo de arte nacional. Ouro Preto, ícone do barroco, estava abandonada desde 1897, quando deixou de ser a capital de Minas Gerais.
Em 1919, o escritor modernista Mário de Andrade esteve pela primeira vez nas cidades históricas mineiras e conheceu as obras de Aleijadinho. Em 1924, ele voltou a Minas Gerais, dessa vez acompanhado de colegas como a pintora e desenhista Tarsila do Amaral e o poeta Oswald de Andrade. A expedição ficou conhecida como Viagem de Descoberta do Brasil.
A defesa contundente que os modernistas fizeram do barroco apareceu como o quarto fator que sacudiu o Brasil para a importância de seu patrimônio histórico e artístico.
Em 1924, a Câmara recebeu o segundo projeto de lei dedicado a preservar o patrimônio cultural. Elaborado pelo deputado Augusto de Lima (MG), proibia o envio de obras antigas de arte nacional para fora do país. Caso desejasse vender peças desse tipo, o proprietário deveria oferecê-las ao governo federal, que teria a preferência na compra. A punição para o infrator seria uma multa de 50% do valor da obra desviada. Lima era poeta e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL).
Em 1930, foi a vez do deputado Wanderley Pinho (BA). O projeto que ele escreveu englobava dispositivos das propostas de 1923 e 1924. O departamento a ser criado se chamaria Inspetoria de Defesa do Patrimônio Histórico-Artístico Nacional. Em caso de infração, a multa poderia chegar a 300% do preço da peça contrabandeada ou do imóvel reformado sem permissão. O deputado era neto do Barão de Cotegipe, senador e primeiro-ministro da época de dom Pedro II, daí seu especial interesse pela história do Brasil.
As propostas de Luís Cedro e Augusto de Lima foram logo engavetadas. Na visão dos parlamentares da época, os bens privados não poderiam ser tombados porque isso colidiria com o supremo direito à propriedade previsto na Constituição de 1891. Os dois projetos nem chegaram ao Senado. O de Wanderley Pinho parecia ser mais promissor que os anteriores, mas acabou sendo abortado pela Revolução de 1930, que pôs Getúlio Vargas no poder e fechou o Congresso Nacional.
Nas discussões da Assembleia Nacional Constituinte de 1933 e 1934, o tema voltou com força total. Os deputados (não houve senadores constituintes) apresentaram inúmeras emendas sobre o patrimônio cultural. Após quase uma década e meia de intensos debates desde o anteprojeto do arqueólogo Alberto Childe, a questão já estava maturada e não havia mais como ignorá-la.
Os parlamentares dessa vez entenderam que o direito à propriedade não poderia ser exercido contra o interesse social. Em 1934, a terceira Constituição brasileira entrou em vigor impondo à União, aos estados e aos municípios o dever de “proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do país”.
No plano mundial, o Brasil chegava com atraso à salvaguarda legal do patrimônio. Na França, esse era um assunto de Estado desde o fim do século 18, plena Revolução Francesa, quando o bispo e senador Henri Grégoire cunhou o termo “vandalismo”. Ele recorreu aos vândalos, povo bárbaro célebre por saquear Roma no século 5o, para opor-se à destruição, perpetrada tanto pelo governo revolucionário quanto pela população enfurecida, de monumentos que remetiam ao despotismo do Antigo Regime.
Países como Grécia, Itália, Turquia, México e Egito criaram leis nesse sentido ainda no século 19. A primeira lei egípcia de proteção do patrimônio data de 1882, após o país ter perdido inúmeras relíquias da era dos faraós para museus do Ocidente. Até hoje, obeliscos do antigo Egito enfeitam praças em Paris, Roma e Istambul.
Às vésperas da criação da lei egípcia, o imperador dom Pedro II fez uma excursão pelo país e trouxe como recordação um sarcófago contendo uma múmia. O tesouro foi destruído no incêndio no Museu Nacional, em 2018.
O dispositivo da Constituição de 1934 referente ao patrimônio cultural, contudo, não era autoaplicável. Para sair do papel, carecia de regulamentação. Com esse objetivo, em 1935, o governo Vargas solicitou ao escritor Mário de Andrade, nesse momento chefe do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, que preparasse um anteprojeto, a ser remetido ao Congresso Nacional, de criação do Sphan e das regras de tombamento.
Empolgado com a missão, o artista redigiu uma proposta de vanguarda. Fiel aos princípios modernistas de combate ao colonialismo cultural, ele pôs não apenas prédios históricos e obras de arte na lista do patrimônio merecedor de proteção governamental, mas também cantos e danças populares, lendas, alimentos e remédios tradicionais, magias indígenas etc.
Menos empolgados, os burocratas do governo aproveitaram apenas a primeira parte das ideias de Mário de Andrade e descartaram a segunda. Para eles, era inaceitável encarar a cultura do povo como representante oficial da nacionalidade brasileira, no mesmo patamar da dita alta cultura.
Em 1936, enquanto o projeto de lei conservador ainda estava em análise no Senado e na Câmara, o Sphan começou a funcionar experimentalmente, sob o guarda-chuva do Ministério da Educação e Saúde. O primeiro diretor foi o advogado e jornalista Rodrigo Melo Franco, que permaneceria no cargo por três décadas. Ele nasceu em 17 de agosto, daí ser esse o Dia Nacional do Patrimônio Histórico.
Em 1937, Vargas deu outro golpe de Estado, agora implantando a ditadura do Estado Novo, e o Congresso Nacional foi mais uma vez dissolvido. O ditador aproveitou o conteúdo do projeto de lei que os senadores e deputado estudavam e poucos dias depois do golpe, com um ou outro ajuste, o transformou em decreto-lei.
De acordo com a historiadora Tatiana Sena, professora do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e autora de uma dissertação de mestrado sobre a proteção do patrimônio cultural, a criação do Sphan fez parte das estratégias de poder de Vargas:
— Getúlio Vargas se dedicou a criar o moderno Estado brasileiro [em contraposição ao que se considerava atraso da Primeira República]. Para forjar a imagem de um governo revolucionário e construtor da modernidade, ele entendeu que seria preciso elaborar uma nova narrativa a respeito da nação. Essa narrativa seria escrita a partir de uma seleção de monumentos históricos e artísticos que representassem um passado heroico e glorioso e, ao mesmo tempo, reforçassem a identidade nacional. Com a mesma estratégia, povos europeus haviam criado suas leis de proteção do patrimônio no século anterior, no momento em que se constituíam como Estados nacionais.
Correndo atrás do prejuízo provocado por tanto tempo de descaso com o patrimônio cultural, apenas em 1938 o Sphan tombou nada menos do que 250 bens, boa parte deles exemplares do barroco colonial. Nos anos seguintes, os números não seriam tão eloquentes. A denominação Iphan seria adotada em 1970, desapareceria alguns anos depois e retornaria em definitivo em 1994.
Em 1973, o Iphan tomou uma de suas decisões mais criticadas. No Rio de Janeiro, o instituto tombou o Teatro Municipal, o Museu Nacional de Belas Artes e a Biblioteca Nacional, mas negou proteção ao Palácio Monroe, que fora a segunda sede do Senado. Os quatro edifícios públicos de estilo eclético se localizavam na Cinelândia, construídos na grande reforma urbana pela qual a capital do Brasil passou no início do século 20. O único a não ganhar o status de patrimônio nacional, o Monroe, onde os senadores haviam trabalhado durante 35 anos, seria demolido em 1976 para dar lugar a uma praça.
A partir de 1934, todas as Constituições brasileiras determinaram a proteção do patrimônio cultural. Em 2000, dando um passo importante, o governo resgatou as ideias propostas quase sete décadas antes por Mário de Andrade em seu anteprojeto e criou a figura do bem cultural de natureza imaterial. Conhecimentos tradicionais, celebrações, formas de expressão e lugares passaram a ser registrados e protegidos de forma semelhante aos bens de natureza material.
Atualmente, a lista do patrimônio imaterial contém 50 bens culturais protegidos, como a capoeira, o frevo, o bumba meu boi, a literatura de cordel e as baianas de acarajé.
Entre os 1,2 mil bens materiais tombados desde a criação do Iphan, estão as pinturas rupestres da Serra da Capivara (PI), os profetas de Aleijadinho na cidade de Congonhas (MG), o prédio do Congresso Nacional (DF), as ruínas jesuíticas de São Miguel das Missões (RS) e os achados arqueológicos do Cais do Valongo, antigo porto do comércio de escravos no Rio de Janeiro.
Os estados e os municípios têm poder para fazer seus próprios tombamentos. A Unesco (braço da ONU para a educação e a cultura) também dá a bens materiais e imateriais o título de patrimônio mundial. Em 2014, os documentos originais das Falas do Trono, discursos que os imperadores faziam duas vezes por ano no Parlamento brasileiro no século 19, foram incluídos no Programa Memória do Mundo, da Unesco. As Falas do Trono fazem parte do acervo do Arquivo do Senado.
Passados mais de 80 anos da criação de políticas de conservação, o patrimônio cultural no Brasil hoje enfrenta obstáculos e ameaças. Servidores do Iphan dizem que a instituição vem sendo esvaziada e entregue a diretores sem experiência na área. Em junho, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, afirmou ser contra a aplicação de dinheiro público na capoeira. Na Câmara, um projeto recém-apresentado pelo deputado federal Fábio Schiochet (PSL-SC) modifica o decreto-lei de 1937 para dificultar os tombamentos — que, na visão dele, são “perniciosos e nefastos” e ignoram as realidades socioeconômicas locais.
Em 2016, o então ministro da Cultura, Marcelo Calero, denunciou ter sofrido pressões do colega da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, para liberar a construção de um edifício de 31 andares em Salvador, vizinho de bens históricos tombados. O Iphan, então subordinado ao Ministério da Cultura, havia proibido a obra. Ambos acabaram pedindo demissão.
A historiadora Tatiana Sena afirma:
— Grupos enxergam o tombamento como empecilho para o desenvolvimento econômico. Existem aqueles que manipulam o tombamento para fazer especulação. Muitas cidades perdem seus bens culturais materiais e imateriais por não terem recursos para protegê-los. O próprio Iphan já passou e passa por crises e desmantelamentos, felizmente sempre resistente. Além disso, há bens que são tombados e ficam intocáveis, com o acesso negado à população. Precisamos entender que se trata de bens pertencentes a todos nós. Como tais, temos que nos apropriar deles, usufrui-los, vivê-los. Patrimônio cultural não significa apenas memória. Também significa qualidade de vida, valorização das identidades, conservação do meio ambiente, geração de riqueza. A sociedade só se mobiliza pela defesa do patrimônio quando o conhece e se sente dona dele.
Saiba mais
- Lista dos bens materiais tombados pelo Iphan
- Lista dos bens imaterais registrados pelo Iphan
- Dissertação da historiadora Tatiana Sena sobre patrimônio cultural
- Estudo do historiador Ricardo Oriá sobre a política de patrimônio anterior ao Sphan
- Documento do Iphan apresenta a trajetória do instituto
- Brasília 60 anos – Conexões modernistas e desenvolvimentismo
- Brasília 60 anos – Sonhos modernistas que ficaram para trás
- Todas as reportagens do Arquivo S
Seção Arquivo S, resultado de uma parceria entre a Agência Senado e o Arquivo do Senado, é publicada na primeira segunda-feira do mês no Portal Senado Notícias.
Mensalmente, sempre no dia 15, a Rádio Senado lança um episódio do Arquivo S na versão podcast, disponível nos principais aplicativos de streaming de áudio.