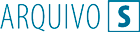Quer receber notificações do portal Senado Notícias?
Patrões disseram que Lei de Férias, criada há 100 anos, quebraria o país
Faz 100 anos que os brasileiros ganharam o direito de tirar férias remuneradas do trabalho. A folga anual foi concedida por uma lei que, depois de aprovada pelo Senado e pela Câmara, foi assinada pelo presidente Artur Bernardes na véspera do Natal de 1925. O benefício era de 15 dias de descanso a cada ano de serviço.
De acordo com a Lei de Férias, seriam beneficiados todos os trabalhadores urbanos — de fábricas, lojas, bancos, jornais, trens, bondes e até instituições de caridade, por exemplo. Foi um avanço significativo, já que naquele momento a maior parte dos trabalhadores não contava com quase nenhuma proteção legal.
A rotina era extenuante. Trabalhavam mais de 12 horas por dia. Não havia jornada máxima de trabalho, adicional noturno ou de insalubridade, descanso semanal, licença-maternidade. Os salários eram baixíssimos. Mulheres e crianças executavam as mesmas tarefas que os homens, mas ganhavam ainda menos. Não havia carteira de trabalho nem seguro-desemprego. Quem participava de greves era demitido.
A mentalidade escravista ainda estava enraizada. Quando a Lei de Férias foi criada, não haviam se passado nem 40 anos desde a abolição da escravidão.
Documentos da época guardados hoje no Arquivo do Senado e da Câmara dos Deputados, em Brasília, mostram que a Lei de Férias foi aprovada com relativa rapidez, apenas 14 meses após a apresentação do projeto.
— A medida se funda na necessidade fisiológica do repouso anual — argumentou o deputado Aníbal Toledo (MT), relator do projeto na Comissão de Constituição de Justiça da Câmara.
O autor da proposta foi o deputado Henrique Dodsworth (DF) — o Distrito Federal era, então, a cidade do Rio de Janeiro —, que a apresentou em outubro de 1924. O texto original, porém, concedia o descanso anual apenas aos funcionários do comércio, como vendedores, caixas, estoquistas e gerentes.
— Eles podem perfeitamente ter 15 dias de férias. Aliás, muitas casas [comerciais] já os concedem. O meu projeto não faz mais do que generalizar e obrigar — afirmou Dodsworth.
A imprensa, no geral, abraçou a causa. O jornal O País classificou o projeto como “simpático” e sustentou:
“Das oito da manhã às sete da tarde, com pequenos intervalos para as refeições, é de ver os dignos moços na azafama [afobação] de um trabalho intenso, quase sempre rude e exigente de dispêndio de energias físicas, senão propriamente manuais. Afora o descanso universal do domingo, nenhuma outra pausa existe para os empregados no comércio, que levam assim uma vida das menos invejáveis que se conhecem do ponto de vista do conforto”.
O Jornal do Brasil, por sua vez, afirmou que trabalhar “ininterruptamente de ano a ano e de sol a sol” era prejudicial à saúde dos funcionários do comércio e acrescentou:
“O repouso redunda em benefício dos próprios patrões, tão certo é que um auxiliar bem-disposto, com o organismo reconfortado pelo descanso, se torna muito mais capaz e eficiente”.
O alcance da Lei de Férias foi ampliado e deixou de limitar-se aos comerciários no decorrer dos debates no Congresso Nacional.
O fato de essa ter sido a primeira previsão legal de férias, contudo, não significa que o descanso anual remunerado fosse uma novidade no Brasil. Algumas categorias profissionais privilegiadas já desfrutavam de férias. Normalmente eram categorias que requeriam escolaridade, como juízes, professores, oficiais militares e funcionários públicos em geral.
Na iniciativa privada, alguns empresários concediam descanso anual, mas esse ato espontâneo exigia contrapartidas dos funcionários, como ter bom comportamento, não faltar ao serviço e não aderir a greves.
Em 1923, quando nem se cogitava conceder férias aos trabalhadores comuns, o senador Jerônimo Monteiro (ES) apresentou um projeto de lei para elevar o descanso anual dos servidores federais de 15 para 30 dias. Segundo ele, a estadia em uma estação de águas só garantiria o “restabelecimento das energias dispendidas” no trabalho se durasse pelo menos um mês.
Os juízes gozavam da situação mais invejável de todas: suas férias duravam dois meses.
A Lei de Férias foi criada num contexto de “agitação operária”, como se dizia na época. Desde a década de 1910, os trabalhadores vinham realizando inúmeras greves contra a exploração sem limites e a favor de condições humanas de serviço.
Das mobilizações, a mais ampla e impactante foi a greve geral de 1917, em que 50 mil operários paralisaram a cidade de São Paulo por quatro semanas.
À força e aos poucos, os trabalhadores foram conquistando direitos. As paralisações levaram à aprovação tanto da Lei de Acidentes de Trabalho (1919) — que obrigou o patrão a indenizar o funcionário ou sua família em caso de incapacidade ou morte — quanto da Lei Elói Chaves (1923) — que garantiu aposentadoria remunerada ao trabalhador das empresas ferroviárias. Essas eram as duas únicas normas trabalhistas em vigor no país quando a Lei de Férias foi aprovada.
Apontando as dificuldades que seu projeto enfrentava para ser aprovado, o deputado Henrique Dodsworth desabafou:
— A atividade parlamentar não se orienta no sentido das questões de legislação social.
De fato, o Estado brasileiro, adepto do ideário liberal, não estava convencido de que deveria interferir no controle irrestrito dos patrões sobre os empregados, impondo limites à exploração. De acordo com Guilherme Machado Nunes, historiador do Centro de Documentação e Memória da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e autor do livro A Classe Operária Sai de Férias: capital, trabalho e legislação social no Brasil (Maria Antônia Edições), o poder público só mudou de ideia depois da Revolução Russa, de 1917, que deu origem ao primeiro país comunista do mundo:
— O Brasil concedeu os primeiros direitos trabalhistas como forma de impedir que o operariado chegasse a uma condição tão miserável que, sem nada a perder e como solução, aderisse à revolução comunista, que prometia ao proletariado uma vida digna. A iniciativa de tornar o capitalismo menos selvagem foi, na realidade, uma medida antirrevolucionária para manter o status quo e proteger os interesses da elite.
Não foi apenas o Brasil que reagiu. Diante da ameaça à ordem capitalista internacional, o mundo ocidental como um todo passou a discutir proteção social. Em 1919, o Tratado de Versalhes, que estabeleceu as cláusulas de paz da Primeira Guerra Mundial, incluiu um capítulo específico sobre questões sociais, criando a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e fixando princípios básicos de proteção dos trabalhadores.
No Brasil, o avanço na legislação trabalhista foi acompanhado de uma intensa repressão. Protestos eram violentamente sufocados pela polícia, enquanto sindicalistas e grevistas iam para a cadeia — estrangeiros podiam ser expulsos do país.
O risco da revolução comunista apareceu explicitamente nos debates sobre a Lei de Férias, como nesta advertência feita pelo deputado Agamenon de Magalhães (PE), relator do projeto na Comissão de Legislação Social da Câmara:
— Senhores, é preciso evoluir para não revolucionar. O que a Comissão de Legislação Social tem feito e procura fazer é evitar que a questão social no Brasil se resolva pela revolução.
Agamenon, no entanto, considerou tímidos os avanços da proposta e redigiu um projeto substitutivo mais amplo, com outros direitos trabalhistas além das férias, como limitação da jornada a dez horas diárias, participação dos empregados no lucro das empresas e proibição do trabalho noturno para as mulheres e do trabalho infantil.
A imprensa rechaçou a ampla lista de direitos contida no substitutivo. O relator se queixou:
— Ainda hoje, o Jornal do Comércio atribuiu-me o propósito de, com o substitutivo, procurar aureolar o meu nome de popularidade, isto é, de aplausos daqueles aos quais o mesmo substitutivo busca favorecer.
Os colegas deputados também consideraram que essas regalias seriam excessivas. O substitutivo, por isso, não passou e o projeto manteve-se restrito às férias.
Agamenon ficou inconformado:
— Atribuem-me intuitos que nunca tive, como o de propor uma legislação comunista. O que me parece é que há ainda por parte das classes conservadoras no Brasil um profundo desdém pelas justas reivindicações proletárias e pelas transformações sociais que nos batem à porta.
O curioso é que as férias não constavam da pauta de reivindicações do movimento operário. Naquele mundo do trabalho sem quase nenhuma regulação, os trabalhadores tinham outras demandas bem mais elementares e urgentes, como salários justos e jornada de oito horas diárias.
O historiador Guilherme Nunes explica que o poder público sabia que as férias não estavam no topo da lista de exigências do operariado:
— Em vez de um direito exigido pelos trabalhadores, o Estado concedeu um que não era reclamado para mostrar que não agiu movido pela pressão popular. A ideia era impedir que o operariado se sentisse poderoso e passasse a pressionar por mais e mais direitos. As férias foram apresentadas, portanto, como um presente. Ao mesmo tempo, o Estado optou pelas férias para não desagradar tanto aos empresários, que resistiriam ainda mais se a concessão fosse, por exemplo, a jornada de oito horas.
Mesmo assim, de acordo com o historiador, os patrões resistiram à mudança. Primeiro, tentaram barrar a aprovação da Lei de Férias, alegando que iriam à falência se tivessem que pagar salário a funcionários ausentes. Depois, uma vez aprovada, tentaram influenciar a regulamentação, tornando-a o mais branda possível.
O jornal O País noticiou que, nas primeiras reuniões do Conselho Nacional do Trabalho destinadas a elaborar a regulamentação da Lei de Férias, “a intransigência de alguns oradores [representantes dos patrões] deixou transparecer certa animosidade contra a concessão de férias a empregados”.
Por fim, com a lei regulamentada em 1926, os patrões recorreram a diversas artimanhas para não conceder os 15 dias de descanso.
O subterfúgio mais comum era demitir o funcionário no 11º mês, já que só se fazia jus às férias quando se completava um ano de serviço.
Outro expediente era registrar uma data de contratação muito posterior ao início real do trabalho. Os empresários se aproveitavam do analfabetismo predominante entre os trabalhadores, que não tinham condições de perceber a fraude na documentação.
Os patrões também demoravam para produzir a caderneta do trabalhador — a carteira de trabalho, emitida pelo governo, ainda não existia. No caso das mulheres, permitiam inicialmente que a funcionária posasse para a fotografia usando colar e brincos, para depois alegar que os acessórios eram proibidos e refazer a foto semanas mais tarde.
Os empresários só conseguiam burlar impunemente a Lei de Férias porque contavam com a conivência do governo, que não criou um órgão fiscalizador. Havia o Conselho Nacional do Trabalho, criado em 1923 dentro do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, mas ele não dispunha de servidores para investigar as denúncias ou realizar inspeções de rotina.
Na mesma época, referindo-se às fraudes na lei de aposentadoria dos ferroviários, o senador Irineu Machado (DF) criticou os patrões:
— Constantemente se diz que possuímos numerosas e boas leis, que os direitos do cidadão são adiantados, copiados do que de mais culto e progressista possuem os povos estrangeiros. Mas, como não há direito eficiente sem a respectiva garantia, é neste que se procede a fraude. O fato está estabelecido: é o direito do pessoal. Mas qual o modo de garanti-lo e protegê-lo? É sempre ainda o gênio da chicana nacional, que elabora os seus melhores inventos.
Em 1927, surgiu outra lei amplamente desobedecida pelo empresariado, o Código de Menores, que proibiu o trabalho das crianças de até 11 anos de idade e liberou o de adolescentes que tivessem entre 12 e 17 anos com uma série de restrições, como a proibição de serviço noturno e em locais perigosos, como minas e pedreiras.
A situação só mudaria em 1932, quando o governo Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho e órgãos responsáveis por fiscalizar o cumprimento da legislação e arbitrar os conflitos trabalhistas. Esses órgãos evoluiriam e dariam origem à Justiça do Trabalho, instalada em 1941.
De acordo com o historiador Guilherme Nunes, compreender a gênese da Lei de Férias é importante para os brasileiros de hoje, já que essa história de cem anos atrás ajuda a iluminar os debates atuais.
— Sempre que se tenta criar algum benefício capaz de melhorar a vida da classe trabalhadora, a elite reage alegando que a economia não vai suportar os custos e que o país vai quebrar. Foi assim na abolição da escravidão, na concessão das férias, na criação do 13º salário. A verdade é que o Brasil nunca quebrou — afirma.
Nunes diz que esse mesmo discurso se repete hoje, quando empresários tentam barrar o fim da escala 6x1 — regime em que o empregado trabalha seis dias e descansa apenas um — e pressionam pela liberação ampla da “pejotização” — contratação do trabalhador como pessoa jurídica para reduzir encargos trabalhistas.
— Outro argumento recorrente é o de que medidas voltadas aos mais pobres seriam políticas, populistas ou eleitoreiras e, por isso, deveriam ser rejeitadas. Mas, quando favorecem os empresários, passam a ser descritas como técnicas e, portanto, merecedoras de aprovação — continua o historiador. — Quem conhece minimamente a história dos conflitos trabalhistas não se deixa enganar por esse tipo de retórica.
Nunes acrescenta que, nos debates de 1925, os empresários tiraram da manga uma justificativa ainda mais extravagante contra as férias. Eles asseguraram que os 15 dias sem trabalho não seriam benéficos para os trabalhadores, mas, ao contrário, altamente prejudiciais, pois, com tanto tempo livre, se dedicariam à “vagabundagem” e ao vício, como a bebida e o jogo.
Com o passar do tempo, o descanso anual garantido por lei foi ampliado. Em 1949, no governo Eurico Gaspar Dutra, o tempo de férias subiu de 15 para 20 dias. Os atuais 30 dias foram estabelecidos em 1977, no governo Ernesto Geisel.
Outro avanço importante veio em 1988, quando a Constituição garantiu aos trabalhadores com carteira assinada, sempre que tirassem férias, um adicional de um terço do salário.
Saiba mais:
- Lei de 1925 que estabeleceu férias de 15 dias
- Regulamento da Lei de Férias, aprovado em 1926
- Pesquisa de Guilherme Machado Nunes sobre a criação da Lei de Férias
- Considerado desastroso para o país o 13º mês de salário, noticiou jornal em 1962
- 13º salário foi criado em meio a disputa entre esquerda e direita
- Em 1967, FGTS substituiu estabilidade no emprego
- Código de Menores, de 1927, proibiu o trabalho de crianças
- Primeira lei da Previdência, de 1923, permitia aposentadoria aos 50 anos
- CLT chega aos 80 anos com direitos do trabalhador sob disputa
- Jornada de trabalho causou embates na Constituinte
- Autonomia ou fraude? País discute limites da "pejotização" do trabalhador
- Saiba como pesquisar nos documentos do Arquivo do Senado
- Encontre pesquisas prontas do Arquivo do Senado
- Conheça todas as reportagens do Arquivo S
- Veja os livros da coleção Arquivo S: o Senado na história do Brasil
- Leia outras reportagens especiais da Agência Senado
A seção Arquivo S, resultado de uma parceria entre a Agência Senado e o Arquivo do Senado, é publicada na primeira sexta-feira do mês.