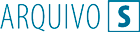Quer receber notificações do portal Senado Notícias?
Há 75 anos, padre redigiu 1º projeto de lei do Brasil sobre o aborto
No Brasil, o primeiro projeto de lei relativo ao aborto foi apresentado ao Congresso Nacional em 1949. A proposta restringia o direito de as mulheres interromperem a gravidez.
Pelo Código Penal, em vigor desde 1940, somente era permitido o aborto nos casos de gravidez por estupro e de risco de vida para a gestante. O projeto em questão retirava essas duas possibilidades, estabelecendo a proibição total do aborto no país.
A proposta de 75 anos atrás foi redigida por um deputado federal, o monsenhor Arruda Câmara (PDC-PE). Na visão dele, os dois tipos de aborto legal desrespeitavam “a moral católica do povo brasileiro” e abriam a porta para “todos os outros atentados à vida do nascituro”.
Os deputados, no entanto, nem chegaram a discutir o tema. O projeto do padre foi engavetado sem passar por nenhuma comissão da Câmara.
Quem identificou o projeto de lei pioneiro foi Maria Isabel Baltar da Rocha Rodrigues, feminista, socióloga e professora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) falecida em 2008.
De acordo com a pesquisa dela, foram 18 as propostas relativas ao aborto apresentadas à Câmara e ao Senado entre 1946 e 1983 — a maioria contrária à interrupção da gravidez.
Apenas em 1971, no auge da ditadura militar, o Senado tratou do tema pela primeira vez. A discussão foi deflagrada pelo senador governista Vasconcelos Torres (Arena-RJ), que escreveu um projeto de lei prevendo a ampliação dos casos de aborto legal.
O projeto estabelecia a legalização do aborto para três novas situações, além das duas já previstas no Código Penal: gestação resultante de incesto (sexo entre irmãos ou entre pais e filhos), risco de o bebê nascer com deficiência física ou mental e grave ameaça à saúde da mãe.
— Tais medidas contribuirão para reduzir as tristes estatísticas de mortes provocadas pela ação ineficiente, incapaz e mesmo criminosa de grande número de parteiras curiosas — argumentou o senador, referindo-se aos abortos clandestinos, executados por pessoas sem capacitação.
O documento original desse projeto, redigido em máquina de escrever, está hoje guardado no Arquivo do Senado, em Brasília.
— A sociedade vive um processo dinâmico — continuou Vasconcelos Torres. — Há sempre que reformular o que arcaico vai ficando.
O senador afirmou que a ideia central do projeto partiu de médicos ginecologistas e obstetras. Ele fez questão de frisar que não se tratava da legalização total do aborto — devaneio, segundo ele, de indivíduos “exagerados”.
Os debates duraram exatamente um mês. Apresentado em 27 de outubro de 1971, o projeto de Vasconcelos Torres passou por duas comissões do Senado. Na Comissão de Constituição e Justiça, o relator foi José Sarney (Arena-MA). Na Comissão de Saúde, Adalberto Sena (MDB-AC). Ambas o rejeitaram. Foi engavetado em 26 de novembro, sem chegar ao Plenário.
O argumento foi o de que, como a ditadura havia criado em 1969, com o Congresso Nacional fechado por força do Ato Institucional nº 5 (AI-5), um Código Penal que ainda receberia contribuições do Senado e da Câmara, o mais sensato seria fazer mudanças no aborto legal durante esse processo.
A Código Penal da ditadura, contudo, jamais entrou em vigor. A lei criminal de 1940, com alterações, vale até hoje.
A psicanalista Margareth Arilha, que é doutora em saúde pública e pesquisadora do Núcleo de Estudos de População da Unicamp, explica que até meados dos anos 1970 o debate público sobre o aborto foi monopolizado pelos homens.
— Não se permitia a participação da mulher. Ela era mantida numa condição de submissão e como um ser não portador de direitos e, sobretudo, de desejos. O patriarcado era ainda mais forte e hegemônico do que é hoje.
Segundo Arilha, o interesse masculino estava acima do feminino até mesmo naquele projeto de lei do senador Vasconcelos Torres:
— Ao permitir o aborto da mulher que engravidou após uma relação incestuosa, quem está sendo protegido é, na verdade, o homem que estuprou a irmã ou a própria filha. É interesse dele que o bebê não nasça. Essa é a mesma lógica que o projeto segue ao também liberar o aborto quando o bebê pode nascer com deficiência mental ou física. Afinal, os filhos gerados em relações consanguíneas têm chances mais altas de nascer com alterações genéticas.
Em 1974, o general Ernesto Geisel chegou ao Palácio do Planalto como o quarto presidente da ditadura militar e prometeu que começaria a transição de volta para a democracia de maneira “lenta, gradativa e segura”.
Os movimentos sociais — os feministas entre eles — então puderam se organizar para lutar pelas demandas até aquele momento reprimidas pelos militares.
A pressão de organizações de mulheres fez o divórcio, as estratégias de planejamento familiar e o aborto entrarem com força na pauta pública.
Foi nessa conjuntura efervescente que o Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram em 1977 a Lei do Divórcio e em 1979 a liberação da propaganda de métodos contraceptivos. A partir desta segunda lei, o governo brasileiro enfim deu início às políticas públicas de planejamento familiar.
O aborto, no entanto, não teve o mesmo respaldo. Do Senado, saíram vários discursos de repúdio à ampliação dos casos de aborto legal.
Em 1977, o senador Benedito Ferreira (Arena-GO) lamentou:
— Na pátria do catolicismo, querem legalizar o aborto. Não há crime mais hediondo e covarde do que o perpetrado contra uma criança. É muito triste que a criança, ainda no ventre de sua mãe, tenha cerceada a oportunidade que lhe é dada por Deus de vir ao mundo.
Em 1982, depois de apresentar um projeto de lei que buscava facilitar a adoção de crianças abandonadas, a senadora Laélia de Alcântara (PMDB-AC) leu um manifesto enviado pelo Movimento em Defesa da Vida apoiando sua proposta e, ao mesmo tempo, condenando o aborto:
— Pelo seu alto alcance social, cristão e humanitário, desejo dar ciência do manifesto ao Senado e ao país: “Temos como pedra de canto do nosso movimento a defesa da vida a partir do ventre materno, pois uma criança em estágio embrionário que possa vir a ter a sua vida interrompida pelo aborto é, sem sombra de dúvida, uma criança abandonada. A sede da vida, que é o ventre materno, não pode ser impunemente violada”.
No ano seguinte, o senador José Ignácio (PMDB-ES) assegurou:
— Estaremos aqui para fazer a objeção permanente a que medidas desse tipo [novas hipóteses para o aborto legal] venham a ser aprovadas e a que formas de planejamento familiar que não se enquadrem nos princípios básicos de moralidade, sustentados e tutelados pela nossa formação cristã, venham a ser implantadas no país.
Em 1980, o Senado recebeu manifestos de duas assembleias legislativas (a do Pará e a de Minas Gerais) e de 37 câmaras municipais (entre elas, a do Recife) pressionando os senadores a não aprovar nenhum projeto de liberação do aborto.
Um dos projetos mais ruidosos foi o redigido pelo deputado João Menezes (MDB-PA) em 1975. O texto permitia a legalização do aborto nas primeiras 12 semanas de gravidez. Menezes desabafou:
— Eu, que pertenço a um estado pobre, subdesenvolvido, como é o Pará, tenho sofrido de todas as maneiras a represália em torno do assunto. Venho repartindo com o senador Nelson Carneiro [autor do projeto da Lei do Divórcio] a excomunhão por aí afora.
O ousado projeto do deputado não foi aprovado.
Houve um momento em que o Senado e a Câmara discutiram juntos o aborto. Isso ocorreu em 1977, nos trabalhos da CPI da Mulher, uma comissão parlamentar de inquérito das duas Casas destinada a investigar a discriminação das mulheres brasileiras e propor medidas contra a desigualdade entre os gêneros.
A CPI, criada a pedido de Nelson Carneiro (MDB-Guanabara), ouviu mulheres sobre diversos assuntos. Uma delas foi a socióloga Maria Alice da Silva, que defendeu a ampliação do aborto:
— Eu exigiria que no Código Penal se confiasse aos médicos, que fazem um sério juramento em nome de Hipócrates, a concessão de um atestado àquela mulher de que ela não tem condição psicológica para aquela gestação e o filho lhe pudesse ser retirado. Mas tudo isso deve ser feito com muita técnica, sem malícia, sem objetivo de exploração da mulher, sem objetivo apenas de enfoque eleitoreiro, mas com o objetivo único de preservar a condição maior da mulher de ser dona e detentora do seu ventre.
A psicanalista e feminista Carmem da Silva, ao participar da CPI, criticou a sociedade brasileira por “reservar-se o arbítrio sobre o ventre feminino e seus frutos” e, desse modo, “comprometer a saúde e até a vida da mãe e do filho”. Ela afirmou:
— Calcula-se que 2 milhões de abortos são realizados anualmente no Brasil. Como é possível fazer o levantamento de uma atividade clandestina? Talvez ela não o seja tanto. A penalização do aborto seria mera hipocrisia, acobertando uma indústria rendosíssima que, por ser clandestina, funciona em condições às vezes desumanas.
Prosseguiu a psicanalista:
— Quanto às mulheres pobres, recorrem a métodos caseiros ou submetem-se a perigosas manobras em mãos leigas. O INPS [Instituto Nacional de Previdência Social] calcula em 500 mil o número de atendimentos de sequelas de abortos malfeitos, que resultam em hemorragias e infecções. Sei de pacientes humildes que foram sadicamente curetadas a sangue frio, “para aprender”.
Ela concluiu:
— Quando as feministas reivindicam o aborto livre, não é porque o considerem, em si, desejável. Sabem-no inevitável e querem defender a saúde das mulheres. O aborto é sempre um fracasso, talvez o mais traumático, e qualquer mulher o sente como tal. Sua penalização não o evita. Serve, isto sim, para culpabilizar a mulher. A concepção é feita a dois, mas a contracepção, quase sem exceção, corre sob exclusiva responsabilidade feminina. E os riscos também.
Aos senadores e deputados da CPI da Mulher, a jornalista Regina Coelho disse que a existência de clínicas clandestinas de aborto no Brasil poderia ser facilmente comprovada por qualquer pessoa:
— Você pode telefonar para clínicas na zona sul e na zona norte do Rio de Janeiro. Fiz essa experiência porque não acreditei que fosse assim. A recepcionista atende e pergunta: “Pois não? Quantos meses? A senhora sabe quanto é? Não traga cheque. Em dinheiro. Venha às 6h. Não coma antes”. Existe, é real. Se isso fosse regulamentado, deixaria de ser crime e funcionaria de uma maneira mais eficiente. Diminuiria até o complexo de culpa.
Ela se queixou do baixo nível das discussões no país em torno do feminismo e citou o caso da célebre feminista norte-americana Betty Friedan, que pouco antes estivera no Brasil:
— Ela chamou a atenção do povo brasileiro para o fato de que as mulheres estavam morrendo nos morros, nas favelas, por terem feito aborto. Foi um choque para todo mundo, e infelizmente Betty Friedan foi mostrada pela imprensa como aquela mulher feia e velha, aquela feminista que tem raiva dos homens. Nada disso! Ela nos prestou um serviço imenso.
A CPI da Mulher foi presidida pelo senador Gilvan Rocha (MDB-SE), que era médico e contou sua própria experiência profissional:
— Nossa legislação é hipócrita porque o Código Penal prevê penas tanto para a mulher que se submete ao aborto como para o médico, mas nenhuma para o agente indutor. Dou meu depoimento pessoal: na minha clínica privada, tenho observado que as mulheres que se submetem a um aborto são induzidas pelo marido. São levadas a essa moderno patíbulo induzidas por uma força maior, com ameaças de abandono, de sanções econômicas etc.
A advogada e feminista Romy Medeiros da Fonseca avaliou que, às portas do século 21, os parlamentares brasileiros legislavam como se ainda estivessem no começo do século 20, época em que se dizia que a vocação da mulher era ser mãe e dona de casa.
Criticando o mundo político do Brasil, ela prosseguiu:
— Só agora a mulher começa a compreender que os direitos políticos que lhe foram outorgados desde 1932 [quando as mulheres obtiveram o direito ao voto no país] serviram-lhe apenas para eleger os homens, [mesmo] sendo elas representantes de metade do eleitorado brasileiro. Nas últimas eleições, em 1974, apenas uma mulher foi eleita para a Câmara dos Deputados. Afastadas do Poder Legislativo, deixam de atuar na elaboração das leis de melhoria da sua condição. Os partidos são dirigidos por homens e não estão interessados em assegurar a participação feminina nos seus diretórios.
A relatora da CPI foi a deputada Lygia Lessa Bastos (Arena-RJ), que expôs sua opinião a respeito do aborto:
— Não se pode conceder à mulher o arbítrio do aborto. Assim pensam todos quantos, como esta relatora, acreditam na existência da alma, têm fé nos desígnios de Deus e confiam nos valores éticos que presidem uma vida consciente. A esta relatora, por suas convicções religiosas, repugna a legalização do aborto como tese.
Ela, entretanto, esclareceu que sabia separar as suas convicções íntimas do seu trabalho político:
— Tem que se pensar [o aborto] de modo não preconceituoso em face de uma motivação como a eugenésica, que se agregou rapidamente à legislação sueca, em 1963, para se interromperem os efeitos sabidos da talidomida [remédio] sobre o feto; ou em casos como o do engravidamento de uma criança ou o de uma débil mental. Enfim, como representantes do povo brasileiro, devemos acompanhar com atenção as experiências que, nas principais nações, estão em curso para encontrar a melhor solução da lei em face do aborto.
O relatório final da CPI da Mulher, apresentado em 1977, recomendou ao Senado e à Câmara que aprovassem projetos de lei de “amenização do crime de aborto”.
A recomendação não foi acatada. O Código Penal de 1940 até hoje permite o aborto exclusivamente nos casos de estupro e de risco à vida da grávida. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que também é legal interromper a gestação quando o feto tem anencefalia (ausência parcial do encéfalo e do crânio).
A socióloga Jacqueline Pitanguy, coautora do livro Feminismo no Brasil (Editora Bazar do Tempo), lembra que uma bancada feminina minimamente consistente enfim surgiu no Poder Legislativo em 1987, na Assembleia Nacional Constituinte, e que isso trouxe efeitos positivos:
— A presença dessas mulheres no Parlamento, chamadas pejorativamente de “bancada do batom”, foi fundamental para que não houvesse retrocessos no aborto legal. Grupos católicos e evangélicos, diante do avanço do feminismo, agiram tentando introduzir na Constituição a proibição do aborto. Não conseguiram. Isso foi uma vitória, pois permite que o aborto seja regulado por leis ordinárias e decisões judiciais.
Foi em 1989, logo depois da promulgação da Constituição, que se criou o primeiro serviço brasileiro dedicado ao aborto legal, no Hospital Jabaquara, em São Paulo. O serviço foi implantado pela prefeita Luiza Erundina. Outros serviços abriram depois em diferentes cidades do país. Até então, na prática, as hipóteses de aborto permitidas pelo Código Penal não passavam de “lei para inglês ver”.
Pitanguy, que foi presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e hoje é coordenadora da ONG Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação (Cepia), entende que, apesar da conquista, a situação das mulheres brasileiras em relação ao aborto não é confortável:
— Os serviços de aborto legal existentes não são suficientes diante do tamanho do território e da população do Brasil. Muitos médicos se recusam a realizar o aborto permitido pela lei. Além disso, frequentemente surgem projetos de lei que buscam promover retrocessos no campo do aborto legal e restringir o direito de decisão das mulheres sobre o próprio corpo.
De acordo com ela, há grupos conservadores que, se pudessem, baixariam uma lei igual à prevista em 1949 no projeto do deputado e padre Arruda Câmara, proibindo completamente a interrupção da gravidez no Brasil.
Saiba mais:
- Relatório final da CPI da Mulher, de 1977
- Para lei escolar do Império, meninas tinham menos capacidade intelectual que meninos
- Para críticos do voto feminino, mulher deveria ficar restrita ao lar
- Futebol feminino já foi proibido no Brasil, e CPI pediu legalização
- O inferno das mulheres - reportagens sobre a Lei Maria da Penha
- Saiba como pesquisar nos documentos do Arquivo do Senado
- Veja todos os discursos dos senadores no período republicano
- Leia outras reportagens do Arquivo S