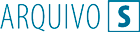Quer receber notificações do portal Senado Notícias?
Há 60 anos, AI-2 aumentou número de ministros para alinhar STF à ditadura
Os livros de história do Brasil costumam apresentar o Ato Institucional nº 2 (AI-2), imposto pela ditadura militar há exatos 60 anos, como a norma que reduziu a política a apenas dois partidos, um governista (Arena) e outro oposicionista (MDB), e tirou da população o direito de escolher o presidente, transferindo essa prerrogativa para o Congresso Nacional.
Na realidade, o ato assinado pelo presidente Humberto Castelo Branco em 27 de outubro de 1965 também impôs outras medidas autoritárias que não costumam aparecer nos livros, por serem à primeira vista menores. Uma delas foi a mudança do número de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que subiu de 11 para 16.
Não foi uma medida menor. A intervenção do governo no STF via AI-2 sepultou o equilíbrio entre os Poderes porque permitiu ao marechal Castelo Branco nomear os cinco novos ministros, todos eles alinhados à ditadura, e assim controlar, ainda que parcialmente, o mais alto tribunal brasileiro. Em outras palavras, o AI-2 buscou tornar o Judiciário submisso ao Executivo.
Documentos históricos da época guardados hoje no Arquivo do Senado, em Brasília, mostram que os senadores da oposição reagiram negativamente quando se ventilou a informação de que o governo pretendia enviar ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição prevendo a intervenção no STF.
O senador Josafá Marinho (PST-BA) advertiu que, feita dessa forma, a alteração no número de ministros seria inconstitucional:
— A Constituição declara que a composição somente pode ser alterada por sugestão da própria Corte. O Supremo encaminhou ao Executivo pormenorizado estudo sobre a reforma judiciária e assinalou a desnecessidade e a inconveniência de aumento do número de seus membros. Seria estranhável, por isso, que a iniciativa partisse do Executivo contra explícito pronunciamento do Judiciário.
O senador Aarão Steinbruch (MTR-RJ) também saiu em defesa do STF:
— Tem sido o Supremo o vexilário [defensor público] mais alto da nossa normalidade jurídica. As revoluções que se fizeram respeitaram sempre a Corte, refúgio inexpugnável das franquias democráticas, pálio [manto] insubstituível dos direitos individuais. Não é infalível, pois não se pode exigir a infalibilidade das instituições humanas. As suas possíveis falhas, porém, nunca prejudicaram a nossa vida institucional. Por isso, sentimo-nos no dever de opor reparo à tese do aumento de turmas para colocar “revolucionários” no Supremo.
O que, no fundo, Steinbruch quis dizer foi “golpistas”. Ele, porém, usou o termo “revolucionários” porque o governo não admitia que se chamasse de “golpe” a derrubada do presidente João Goulart em 1964 nem de “ditadura” o regime que se instalou. Preferiam referir-se tanto ao golpe quanto à ditadura como “Revolução”, com inicial maiúscula mesmo, com o intuito de legitimá-los e ainda dar-lhes um caráter heroico. Na narrativa dos militares, quem tentou dar um golpe e instaurar uma ditadura foi Goulart.
A ideia de reformar o Supremo deflagrou um bate-boca público mediado pelos jornais entre o ministro Álvaro Moutinho Ribeiro da Costa, presidente do STF, e o marechal Artur da Costa e Silva, ministro da Guerra e expoente da linha dura do regime.
À imprensa, Ribeiro da Costa disse que a mudança no número de ministros seria “absurda e esdrúxula” e que, nas democracias, os militares não podem assumir o papel de “mentores da nação”. Em resposta, Costa e Silva afirmou que o ministro deveria agradecer aos “revolucionários” pela benevolência de não ter fechado o STF.
— Os militares deixaram o STF funcionar na esperança de que ele saberia compreender a Revolução. Esperança, aliás, ilusória — observou o ministro da Guerra em entrevista à Folha de S.Paulo.
Embora adversário do governo Castelo Branco, o senador Argemiro de Figueiredo (PTB-PB) não tomou partido do STF nessa briga:
— Peço permissão para dizer ao grande ministro que ora preside a magistratura nacional que o Poder Judiciário só pode intervir na vida jurídica e social do país quando convocado para tal. Chamado a se pronunciar, tem de se manifestar por força das leis vigentes restabelecendo direitos, prevenindo violações de direitos e restaurando a ordem legal alterada no ângulo dos interesses individuais feridos. Portanto, não vejo bem o presidente do Judiciário envolvido nesta crise político-militar que a todos nós atinge.
A ideia de intervenção e o consequente bate-boca entre Costa e Silva e Ribeiro da Costa surgiram porque o STF vinha opondo-se às ações violentas e ilegais da ditadura. Os militares planejavam aumentar o número de ministros, de modo a amordaçar o tribunal, porque eles, em obediência às leis e à Constituição, vinham concedendo inúmeros habeas corpus que libertavam adversários da ditadura presos arbitrariamente.
O historiador Mateus Gamba Torres, professor da Universidade de Brasília (UnB) e autor do livro O Discurso do Supremo Tribunal Federal na Ditadura Militar (Editora UnB), conta que em 1964 os ministros do tribunal, por ação ou omissão, apoiaram o golpe de Estado, mas logo mudaram de lado:
— O que o governo fez, ao buscar a reforma do STF, foi ceder à pressão dos coronéis do Exército que presidiam os IPMs [inquéritos policiais militares] contra os inimigos da ditadura. Como essas investigações costumavam ser malfeitas e pedir a condenação de pessoas simplesmente acusando-as de “comunistas notórias”, sem prova de que agiam contra a segurança nacional, o STF concedia os habeas corpus. Os coronéis dos IPMs diziam que o tribunal era liberal e garantista demais e, dessa forma, acabaria permitindo que o regime derrubado em 1964, supostamente caótico e apoiador do comunismo, fosse mais cedo ou mais tarde restabelecido. Eles passaram, então, a exigir do governo a domesticação do STF.
Entre as personalidades políticas que receberam habeas corpus do STF, estiveram os governadores Miguel Arraes, de Pernambuco, e Mauro Borges, de Goiás.
Em meio à crise entre o Executivo e o Judiciário, o senador Edmundo Levi (PTB-AM) apoiou o segundo e citou dois habeas corpus concedidos naqueles dias pelo tribunal:
— O Supremo acaba de praticar dois atos da mais alta justiça. Concedeu habeas corpus a Francisco Julião, o célebre responsável pelas Ligas Camponesas, que amargava havia mais de 14 meses os cárceres nordestinos. Alegava-se que deveria permanecer preso porque o inquérito envolvia mais de 900 testemunhas e, enquanto tais testemunhas não fossem ouvidas, não deveria ser posto em liberdade. O outro cidadão ao qual o Supremo concedeu a medida foi o ex-governador do Amazonas Plínio Ramos Coelho, que, através de medida violenta, teve decretada sua prisão preventiva, alegando-se que seria peculatário [corrupto].
No Congresso, o senador Arthur Virgílio (PTB-AM) foi uma das vozes mais altivas contra a ditadura. Num discurso, ele citou o caso do ex-presidente Juscelino Kubitschek, que, além de ter tido o mandato de senador cassado com base no AI-1, vinha sendo insistentemente acossado pelos IPMs:
— Por que qualquer temor ao Sr. Juscelino Kubistchek? Não diria nada se os inquéritos policiais militares aos quais tem sido chamado a depor fossem para apurar essa corrupção que, dizem, houve na construção de Brasília. Eu quedaria na expectativa, aguardando os resultados dos inquéritos. Entretanto, a que a nação assiste? É ao Sr. Juscelino Kubitschek sendo chamado a depor em IPMs sobre o Partido Comunista, sobre a imprensa comunista, insinuando uma possível ligação do ex-chefe de governo com a agremiação comunista.
Para Virgílio, a situação chegava às raias do “ridículo” porque, segundo ele, JK era evidentemente de centro e conservador:
— É um homem que realizou um governo conservador, abriu as portas deste país à livre iniciativa e teve como auxiliares, para citar alguns, o marechal Teixeira Lott, o marechal Odílio Denys e o general Amaury Kruel, anticomunistas intransigentes. Esse homem que jamais teve qualquer vinculação com o Partido Comunista vem sendo arrastado, nos seus 61 anos de idade, na maratona dos IPMs, numa perseguição odiosa que está causando a revolta de todo o povo brasileiro.
Entendendo que, diante de tanta resistência, a reforma do STF dificilmente seria aprovada pelos parlamentares, a ditadura resolveu atropelar o Congresso Nacional e impor a mudança por meio do AI-2.
Entre os cinco novos ministros indicados por Castelo Branco, estavam Aliomar Baleeiro e Prado Kelly, expoentes da UDN (partido de direita que participou ativamente do golpe de 1964), e Carlos Medeiros Silva, um dos elaboradores do AI-1.
A balança do STF penderia ainda mais para o lado da ditadura a partir da edição do AI-5, em 1968, que aposentou compulsoriamente os ministros Hermes Lima, Evandro Lins e Silva e Victor Nunes Leal, nomeados antes de 1964, no período democrático, e tidos como esquerdistas e subversivos pelos militares. Logo em seguida, por solidariedade ou medo, outros ministros pediram aposentadoria e saíram do tribunal.
O ministro Ribeiro da Costa deixou o STF poucos meses depois da outorga do AI-2, às vésperas de completar 70 anos. Os magistrados se aposentavam quando atingiam essa idade.
Expurgados os ministros legalistas e garantida a maioria governista, o AI-6, em 1969, reduziu o número de integrantes do STF, que passaram dos 16 impostos pelo AI-2 aos 11 de antes. No fim, desses 11 ministros, dez eram nomes da ditadura e apenas um vinha do período democrático. Com o tribunal subjugado, os habeas corpus considerados equivocados pelo governo se tornaram coisa do passado.
Castelo Branco baixou o AI-2 cedendo à pressão da linha dura. O presidente dizia que pretendia devolver o poder aos civis ao fim de seu mandato, no que era apoiado por uma ala das Forças Armadas, mas a ala mais radical dos militares não admitia essa hipótese. No discurso da linha dura, se Castelo Branco permitisse que o presidente seguinte fosse civil, o Brasil voltaria ao caos pré-1964 e sofreria um golpe comunista.
Na época, circularam rumores de que a linha dura, contrariada com a “brandura” de Castelo Branco e desejosa da continuidade e do fechamento da ditadura, planejava derrubar o presidente ou até mesmo assassiná-lo.
Nos dias anteriores ao AI-2, de acordo com os discursos guardados no Arquivo do Senado, o senador Arthur Virgílio, preocupado, leu para os colegas o manifesto de um grupo militar da linha dura, publicado no jornal O Estado de S. Paulo, exigindo que Castelo Branco permanecesse “fiel aos ideais da Revolução de 31 de março” de 1964.
O endurecimento seria urgente por causa das “incertezas” decorrentes da eleição presidencial programada para 1966. Nas entrelinhas, a linha dura deu a entender que essas “incertezas” só seriam dissipadas se a escolha do sucessor de Castelo Branco fosse feita pelo Congresso, não pelo povo, e o vencedor fosse outro militar.
No manifesto, os militares escreveram:
“A linha dura sente necessidade de unificar o pensamento e ação de seus adeptos em vista das incertezas que se prenunciam em futuro próximo. Com impaciência aguardamos do governo urgente e inequívoca definição política que imprima ao país segurança e tranquilidade no evento sucessório, com plena garantia aos objetivos revolucionários. A ausência de tal atitude pode ser considerada perigosa concessão aos inimigos da Revolução, expondo-a a tão graves riscos que sejamos compelidos a adotar adequadas medidas de defesa”.
Após ler o manifesto ameaçador, Arthur Virgílio analisou a situação:
— Em todas essas proclamações, pronunciamentos e manifestos, os seus autores falam em amor à pátria e democracia. Não acredito que eles usem essas palavras sem um intuito preconcebido, sem um objetivo assinalado. Porque eles sabem que podem ser tudo, menos patriotas e democratas. A democracia não se firmará sob o império do ódio, da agitação e da perturbação.
Sabendo que Castelo Branco estava encurralado pela linha dura, o senador afirmou que o presidente deveria ser corajoso e manter as eleições diretas em 1966:
— O marechal Castelo Branco precisa assumir de fato a Presidência da República e liquidar a conspiração em marcha [da linha dura]. Nessa hora, Sua Excelência poderá contar inclusive com o apoio dos oposicionistas, que querem enfrentá-lo sob a Constituição e sob as leis, que querem derrotá-lo democraticamente nas ruas e nas lutas, com o apoio do povo, mas que respeitam a sua autoridade e o seu mandato.
O senador governista Eurico Rezende (UDN-ES) se posicionou ao lado da linha dura, inclusive nas críticas ao presidente Castelo Branco:
— No instante em que deixou em pleno funcionamento o Congresso Nacional, o Poder Executivo emergido daquele movimento cívico-militar [de 1964] demonstrou a sua vocação de, superado o período de transição, consolidar o regime democrático. Mas, se a Revolução praticou tanta renúncia, muitas das quais até autofágicas e das quais ela irá se arrepender, não é possível abdicar mais do seu dever de evitar que os engenheiros do caos e do comprometimento da verdade eleitoral voltem à obra maldita de destruição do país.
Rezende prosseguiu:
— O Congresso já começa a perder o medo da Revolução, e a Revolução começa a se perder quando o povo começa a perder o medo da Revolução. Sou contra as eleições diretas em 1966 para governadores e presidente da República. O governo vai ter que rever a sua generosidade permissiva de eleições diretas.
Para o senador Pedro Ludovico (PSD-GO), o perigo comunista no Brasil era inexistente e não passava de uma desculpa para a instauração de um regime autoritário, tal qual a estratégia do presidente Getúlio Vargas no golpe do Estado Novo, em 1937:
— Eu não aceito essa incriminação, que já se vai tornando enfadonha, da exploração do perigo comunista. Os senhores revolucionários começaram a ver subversivos e comunistas em todo mundo, prendendo a torto e a direito, cometendo inúmeras injustiças. Ninguém ignora que o número dos comunistas no Brasil é inexpressivo. Há entre nós muitos simpatizantes de esquerda, socialistas intelectuais, socialistas cristãos, mas que absolutamente não são extremistas.
Ludovico prosseguiu com o pronunciamento, dando origem a um debate exaltado com o senador governista Daniel Krieger (UDN-RS).
— Comunista é um homem como qualquer outro, é um ser humano — disse Ludovico, que foi governador de Goiás. — Quando os comunistas de Pernambuco estavam sendo perseguidos, foram encontrar refúgio em Goiás. Nomeei comunistas delegados de polícia, professores de escolas normal, mas tudo com espírito humanitário, pois sempre fui combatido por eles.
— Então Vossa Excelência procedeu muito mal, porque não se podem nomear comunistas secretários de Educação, não se podem nomear professores comunistas, porque atentam contra o regime democrático e a segurança nacional — reagiu Krieger.
— Quando foram admitidos, houve o compromisso de não levarem suas ideias à mocidade — garantiu Ludovico.
— Vossa Excelência, um homem amadurecido, cheio de qualidades e virtudes, conserva aos 70 e tantos anos de idade muita ingenuidade. Não é possível crer que quem professa a ideologia comunista possa renunciar à sua pregação — avaliou Krieger.
O AI-2 não foi motivado apenas pela insubordinação do STF. Pesou também a vitória da oposição em estados importantes, como Minas Gerais e Guanabara, nas eleições para governador realizadas no início de outubro de 1965. O resultado indicava que a oposição provavelmente ganharia a disputa presidencial de 1966. Para evitar esse desfecho, o AI-2 determinou que a eleição seria indireta, pelo voto dos parlamentares federais.
O historiador Mateus Gamba explica:
— Até então, havia alguma esperança de que a ditadura seria temporária e, terminado o mandato de Castelo Branco, o país voltaria à normalidade, se não democrática, pelo menos institucional. No entanto, em outubro de 1965, com o AI-2 determinando votação indireta para presidente e a existência de apenas dois partidos, sendo um deles criado com o propósito de vencer todas as eleições presidenciais, ficou claro que os militares não permitiriam a vitória de um adversário e que a ditadura não acabaria tão cedo. Eles gostaram do poder e decidiram permanecer.
Em vez de se encerrar em 1966, a ditadura militar chegou ao fim apenas em 1985. A partir do AI-2, o regime foi progressivamente endurecendo. Por força do AI-5, o combativo senador Arthur Virgílio teve o mandato cassado em 1969. Ao todo, foram editados 17 atos institucionais.
Outro fator determinante para o AI-2 foi a resistência do Congresso Nacional, que tal qual o Supremo, havia apoiado o golpe. Na véspera da decretação do novo ato institucional, os senadores e deputados debatiam duas propostas arbitrárias enviadas pelo governo e indicavam que não as aprovariam.
Uma delas facilitava a cassação de direitos políticos de adversários e a outra transferia o julgamento de civis acusados de crimes políticos para a Justiça Militar, mais alinhada à ditadura do que a Justiça comum, e facilitando a intervenção federal nos estados.
— Pela primeira vez na história constitucional, o Poder Executivo envia ao Legislativo um projeto de lei e uma emenda constitucional sem que lhe permita a modificação de uma vírgula. O que se pretende é converter o Legislativo em mera chancelaria do Executivo — acusou o deputado Nelson Carneiro (PSD-Guanabara).
— Depois de muito conceder, recuar e abdicar, chega a hora de este Congresso se impor e dizer à nação que, se ele cedeu e recuou, não cederá nem recuará mais. Arranquemos, pois, a máscara. Que se implante a ditadura, mas não com leis do Congresso. Que se liquide com a liberdade, mas não com nosso apoio e nosso voto — protestou o senador Arthur Virgílio.
Essa insubordinação foi a gota d’água para a ruptura definitiva entre o Executivo e o Legislativo. No dia seguinte à sessão do Congresso em que os parlamentares criticaram as propostas sem votá-las, o presidente Castelo Branco assinou o AI-2, atropelando a prerrogativa dos parlamentares de legislar.
— Manifesto minha estranheza e minha amargura pela decretação do Ato Institucional nº 2. Subvertido o regime, ferida a integridade funcional do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, ameaçadas as garantias e direitos fundamentais, o Poder Executivo reingressa no exercício de faculdades discricionárias — lamentou o senador Josafá Marinho.
— Não é possível exigir-se de um homem que ascendeu à Presidência da República pela força revolucionária que frustrasse os anseios da Revolução. Entrou o presidente em grande angústia e procurou por todos os meios que o Congresso resolvesse as suas dificuldades. Isso não ocorreu pela teimosia de homens que não compreendem o momento político. A Revolução ressurge de novo, tomada da sua força inicial e estratificada no ato institucional hoje promulgado — comemorou o senador Daniel Krieger.
Para subjugar o Poder Legislativo, o AI-2 ainda estabeleceu que o presidente poderia suspender o Congresso e legislar diretamente sempre que julgasse necessário. Esse ponto da nova norma seria executado exatamente um ano depois, em outubro de 1966, quando tropas do Exército, sob ordens do Executivo, fecharam temporariamente o Congresso Nacional.
Na avaliação do historiador Gamba Torres, é importante que a história do AI-2 seja conhecida pelos brasileiros de hoje porque, mesmo passados 60 anos, permanece como um alerta para a sociedade sobre os perigos da erosão institucional e da fragilidade democrática diante da força autoritária. Ele afirma:
— Se desejamos continuar num regime democrático, precisamos estar atentos à independência dos três Poderes. Uma ação típica dos governos que buscam tornar-se autoritários é bater de frente com o Judiciário que aplica as garantias constitucionais e com o Legislativo que rejeita projetos de lei arbitrários, colocando os dois Poderes no papel de inimigos da pátria. Essa é uma forma clássica de minar a democracia. Não é porque o governo está insatisfeito com as decisões do Supremo e as leis do Congresso que ele tem o direito de fechá-los. Esse é um aspecto básico da democracia.
Saiba mais:
- Leia artigo do historiador Mateus Gamba Torres sobre o conflito entre a ditadura e o STF em 1965
- Ouça o discurso completo do senador Arthur Virgílio no Congresso horas antes da outorga do AI-2
- Veja reportagem do Arquivo S sobre o bipartidarismo, imposto pelo AI-2 em 1965
- Saiba como pesquisar nos documentos do Arquivo do Senado
- Encontre pesquisas prontas do Arquivo do Senado
- Conheça todas as reportagens do Arquivo S
- Veja os livros da coleção Arquivo S: o Senado na história do Brasil
- Leia outras reportagens especiais da Agência Senado
A seção Arquivo S, resultado de uma parceria entre a Agência Senado e o Arquivo do Senado, é publicada na primeira sexta-feira do mês.