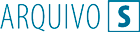Quer receber notificações do portal Senado Notícias?
Em 1968, MEC passou a priorizar faculdades privadas
No mês passado, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que o governo faria o ensino superior crescer por meio das faculdades particulares. O anúncio veio logo depois de o ministro congelar uma parcela do orçamento das universidades federais e enfrentar protestos estudantis nas ruas de várias cidades.
As instituições privadas respondem hoje pela grande maioria das matrículas no ensino superior (75% do total). Durante várias décadas, contudo, foram as instituições públicas que sustentaram o setor. Isso mudou no fim de 1968, quando a ditadura militar fez uma reforma universitária que, entre outras mudanças, deu o domínio do mercado à iniciativa privada.
A opção pelas faculdades particulares foi a resposta dos generais à incômoda pressão dos “excedentes” — jovens que obtinham boas notas nos vestibulares das universidades públicas, mas não eram convocados para a matrícula porque não havia vagas suficientes.
Para ser considerado aprovado, bastava que o vestibulando tirasse nota superior a 5. Assim, por exemplo, 180 jovens podiam ser aprovados para uma graduação com apenas 100 vagas disponíveis. Nessa situação, 80 ficavam de fora e engrossavam o grupo dos excedentes.
A situação era tão grave que o marechal Arthur da Costa e Silva, ao assumir a Presidência da República, em 1967, colocou o fim dos excedentes na lista de suas prioridades no governo.
Documentos de 1968 guardados no Arquivo do Senado mostram que senadores da época, tanto da Arena (partido governista) quanto do MDB (oposicionista), cobravam uma solução rápida do presidente.
— O espetáculo da nossa mocidade à porta das faculdades, procurando entrar e sendo barrada, é um atestado da desorganização do nosso governo — discursou o senador Arthur Virgílio (MDB-AM).
— O problema do excedente é absurdo num país que precisa de engenheiros, médicos, biologistas, químicos, profissionais de todas as categorias — criticou o senador Vasconcelos Torres (Arena-RJ).
— Tenho em minha própria casa um filho que fez o exame vestibular para o curso de medicina e está hoje, com dezenas de outros rapazes, preterido por falta de vaga na Universidade de Brasília — exemplificou o senador Argemiro de Figueiredo (MDB-PB).
— Preparou-se a mocidade, nas suas sempre risonhas esperanças, para o ingresso na vida universitária. O resultado, certamente, não foi o prometido. Pelas notícias divulgadas, em todos os estados, há cinco estudantes que disputam cada vaga existente nos diversos cursos — afirmou o senador Cattete Pinheiro (Arena-PA), referindo-se à promessa presidencial ainda não cumprida.
Os estudantes passaram o ano de 1968 fazendo passeatas. Eles não só exigiam a queda da ditadura militar, que completava quatro anos, mas também cobravam mais vagas nas universidades, para acabar com o drama dos excedentes. O governo reprimiu muitas dessas manifestações com violência.
Em 1960, o Brasil tinha só 100 mil vagas em cursos de graduação, sendo 60% públicas e 40% privadas. Menos de 1% dos jovens entravam na universidade. Passados apenas cinco anos da reforma de 1968, as porcentagens já haviam se invertido: 40% das vagas eram públicas e 60%, privadas. É certo que as instituições públicas também cresceram, mas isso ocorreu num ritmo bem discreto.
Hoje, como comparação, há 8,2 milhões de vagas na graduação, e a predominância do setor privado está ainda mais pronunciada, na proporção 75%-25%.
Em 1968, a abertura massiva de vagas na rede pública estava fora de cogitação. Com dificuldades orçamentárias, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) vinha retendo verbas das universidades federais.
O senador Mário Martins (MDB-Guanabara) citou o caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que receberia naquele ano apenas 50% dos recursos solicitados ao MEC, e analisou:
— Essa é uma política generalizada. Como pode um governo pretender ter autoridade para se dirigir à mocidade se demonstra profundo desprezo para com aqueles que aprendem? Eles não podem estudar e se atrasam na sua formação porque os professores não recebem e as escolas não têm verbas. A mocidade não está fazendo agitação, como se apregoa. Está reclamando o seu direito. Que o governo cumpra o seu dever. Mas o dever não é mobilizar forças militares para silenciá-la.
Para Martins, havia um interesse oculto na retenção das verbas:
— Esse abandono não é por acaso. Há um plano para tornar impossível o funcionamento das faculdades federais. Para quê? Para transformá-las em fundações, para que possa o capital privado interferir, sobretudo o capital estrangeiro.
Em maio de 1968, o Senado chamou o ministro da Educação e Cultura, Tarso Dutra, para dar explicações sobre os excedentes. Sem citar a iniciativa privada, Dutra disse aos senadores que o plano do MEC era criar outro tipo de curso superior:
— Estamos projetando uma solução eficiente e decisiva: a abertura do ensino universitário para cursos de duração reduzida, para uma formação mais rápida no tempo, que deem à juventude brasileira imediatas possibilidades de ganhar a vida. Isso ocorrerá sem prejuízo de continuarmos com os cursos clássicos de cinco ou seis anos, formando profissionais de alta qualificação para comandar o processo de desenvolvimento do país.
O senador Arnon de Mello (Arena-AL) apoiou a ideia:
— A Rússia tem 4,5 milhões de engenheiros. Os Estados Unidos, mais de 1 milhão. O Brasil, apenas 34 mil. Na Rússia, os engenheiros são formados com dois ou três anos de estudos. Nos Estados Unidos, com três ou quatro anos. O Brasil é um dos poucos países do mundo que se dão ao luxo de formar engenheiros com cinco anos. O engenheiro brasileiro não utiliza nas suas atividades nem 30% do conhecimento adquirido na faculdade.
Uma ideia esdrúxula chegou a ser cogitada como forma de impedir o sucesso dos excedentes que apresentavam ações judiciais contra o governo pedindo a matrícula na universidade.
— A situação chegou ao ponto de um ex-ministro da Educação propor a incineração das provas como único meio de evitar excedentes. Mas seria essa a solução para a crise? Eu me vejo obrigado a fazer um apelo à análise, um chamamento à razão — discursou o senador Cattete Pinheiro.
Para alguns senadores, o grande culpado pela existência dos excedentes era o Conselho Federal de Educação (CFE), órgão vinculado ao MEC responsável por credenciar novas faculdades e autorizar novos cursos. Segundo o senador Vasconcelos Torres, o CFE havia começado o ano de 1968 sem dar andamento a 300 pedidos apresentados no ano anterior:
— Escravizamos o ensino brasileiro ao poder arbitrário e pessoal do CFE. Humildemente, como quem vai implorar uma esmola, acorrem brasileiros de todos os quadrantes do país a fim de solicitar ao conselho a necessária autorização para o funcionamento de um curso superior. Preenchido um mundo de formalidades, começa a batalha. Mês após mês, com enormes gastos de transporte e hospedagem no Rio de Janeiro, voltam ao CFE para saber da esperada autorização. O prazo médio de demora é de um ano, mas há requerimentos com dois, três, quatro e até cinco anos. Em 1967, o CFE autorizou menos escolas do que em 1966.
O senador Eurico Rezende (Arena-ES), que pouco tempo antes havia obtido o aval do CFE para abrir a primeira faculdade particular de Brasília, discordou da avaliação negativa colega:
— O Conselho Federal de Educação, ao revés do que afirma Vossa Excelência, tem cumprido as suas tarefas e obrigações. Assisti a algumas de suas sessões plenárias e só tenho motivos para louvar a isenção daquele órgão. Conceder autorização é colaborar com o ensino, obviamente. Mas negar esses atos também é colaborar com o ensino. É preciso criar faculdades, não facilidades. É o que se verifica aqui no próprio Senado quando se aprova ou se rejeita um projeto de lei. Não se diz nunca que estamos desservindo ao país quando rejeitamos uma proposição.
Torres respondeu:
— Vossa Excelência não pode comparar os problemas do Senado, um órgão legislativo, com os do Conselho Federal de Educação. Mas por que tal empenho em não dar autorizações? O CFE é constituído em sua quase totalidade de reitores de universidades e diretores de escolas. O Fundo do Ensino Superior [composto de recursos públicos] é distribuído a elas. Aumentando o seu número, diminuída ficará a parcela tocada a cada uma. Então os conselheiros reagem, solidarizam-se na defesa do interesse comum.
Em julho de 1968, diante da pressão cada vez mais intensa dos estudantes, o Palácio do Planalto criou uma comissão de especialistas para estudar a situação do ensino superior. Não houve nenhum representante dos universitários no grupo. Ao fim dos trabalhos, 30 dias depois, a comissão propôs uma ampla reforma universitária. O governo transformou algumas dessas sugestões em decretos-leis, com vigência imediata, e outras em projetos de lei, que os senadores e deputados foram obrigados a aprovar a toque de caixa — o Ato Institucional 2 (AI 2) estabelecia que, caso o Congresso Nacional não votasse um projeto com regime de urgência no prazo de 30 dias, ele seria automaticamente aprovado.
Durante a discussão dos projetos da reforma, o deputado Último de Carvalho (Arena-MG) apresentou uma emenda que buscava inibir os protestos estudantis. Na visão dele, muitos jovens eram “presas fáceis de ideologias exóticas”. De acordo com a sugestão, alunos de universidade pública que fizessem greve seriam expulsos.
— Não é possível que o povo brasileiro fique se sacrificando com tributos para que estudantes de escolas do governo façam greve. Se querem fazer greve, então que paguem pelos seus estudos. Não podem estudar à custa do governo. Esse tipo de coisa me impressionava e me impressiona.
A emenda do deputado foi rejeitada.
Na reforma universitária de 1968, o governo resolveu a questão dos excedentes por meio de três expedientes. O primeiro foi acabar com a nota mínima para a aprovação do vestibulando e estabelecer que só seriam aproveitados os candidatos em número igual ao das vagas abertas nos editais. O segundo expediente foi conceder empréstimos e isenções fiscais a empresários que desejassem abrir faculdades. O terceiro foi ordenar que o CFE abrisse a porteira, afrouxando as exigências e sendo rápido ao analisar os pedidos de novos cursos.
Assim, além de acalmar os protestos estudantis, a ditadura militar atingiu os objetivos de manter o apoio da classe média (que via o diploma universitário como caminho para a ascensão social) e garantir a formação de mão de obra para a crescente indústria nacional.
Outro desejo do governo era dinamizar o mercado educacional privado. De acordo com Luiz Antônio Cunha, professor da Faculdade de Educação da UFRJ e autor do livro A Universidade Reformanda (Editora Unesp), foi forte a pressão dos empresários, que enxergaram a possibilidade de grandes negócios na educação.
— Vários pequenos colégios privados se transformaram em faculdades, aproveitando essa onda de afrouxamento dos controles sobre a autorização de cursos — ele diz.
Uma das leis aprovadas na reforma de 1968 estabeleceu que o ensino superior brasileiro se basearia em universidades (obrigadas a oferecer cursos nas várias áreas do conhecimento e a desenvolver pesquisa científica). Apenas em casos excepcionais haveria faculdades isoladas (que ofereciam só um ou dois cursos e não precisavam se dedicar à pesquisa). As instituições públicas obedeceram à nova determinação, mas não as particulares. Grande parte das muitas instituições que o CFE autorizou naquela época foram faculdades isoladas.
— A iniciativa privada não tinha interesse, competência nem recursos para organizar universidades. Ela se dedicou às faculdades e explorou o ensino como mercadoria — afirma Dermeval Saviani, professor da pós-graduação em educação na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e autor do livro Política e Educação no Brasil (Editora Autores Associados). — Na prática, a lei foi invertida: o ensino superior acabou sendo ministrado em estabelecimentos isolados, e as universidades se tornaram a exceção.
Os efeitos colaterais, no entanto, logo seriam sentidos. Em 1980, a Câmara dos Deputados criou uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para apurar as deficiências do ensino privado no país. Um dos chamados a colaborar com a investigação dos deputados foi o senador João Calmon (PDS-ES), reconhecido como um dos grandes especialistas do Congresso Nacional em educação. Calmon resumiu:
— Houve uma expansão desordenada. Boa parte das instituições criadas no rush de 1968 reconhecidamente não apresenta condições para ministrar um ensino de qualidade ao menos razoável. Elas não dispõem sequer de bibliotecas adequadas, para não falar de professores capacitados. Além disso, há uma inadequação entre a oferta de ensino superior e a demanda da sociedade. Estamos formando profissionais demais em áreas como direito, história, administração, letras, engenharia e medicina. Hoje há um novo tipo de excedente: os excedentes profissionais, sérios candidatos ao desemprego.